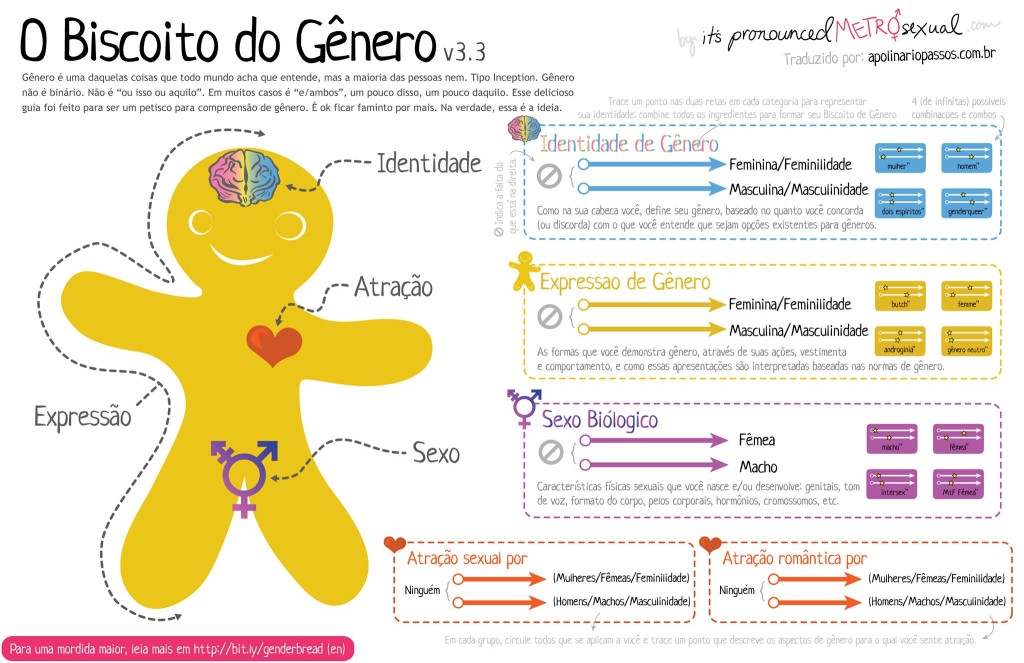Sou uma mulher liberal e a cirurgia de transição de gênero salvou minha vida
Por Mikayla Novak
Dezesseis anos anos atrás, aconteceu o evento mais importante da minha vida: eu passei pela cirurgia de confirmação de gênero.
Quando acordei da operação, senti um alívio imenso ao notar que, finalmente, o meu corpo estava tão alinhado à minha identidade de gênero quanto a medicina moderna permitia. Em todos os sentidos possíveis e imagináveis, desde aquele novembro de 1999, a minha qualidade de vida tem sido imensamente superior à dos “maus e velhos tempos”.
Quando criança, me agarrei a vários mecanismos de defesa com o intuito de desviar temporariamente a minha atenção de uma pergunta fatídica que me perseguia, impregnando a minha mente sem que uma resposta estivesse à vista:
— Por que não nasci menina?
Esse instinto de defesa fez com que me dedicasse a alguns hobbies, como a astronomia e a computação, que me ajudaram a fugir daquele mundo cheio de bullying e julgamento onde cresci.
De certa forma, fui uma criança precoce, apaixonada por eclipses planetários e variáveis estelares, e, por pouco tempo, organizei um clube nacional de usuários do computador Dick Smith ZV200. Meus pais penaram para compreender o “garoto estranho” que eu era — essa descrição entre aspas chegou a constar no meu histórico escolar do primário, lido com crueldade por um professor do sétimo ano, na frente de toda a classe.
Meus pais foram responsáveis em minha criação e fizeram um trabalho admirável para suprir necessidades materiais, acatando aos meus pedidos de livros, computadores, softwares e telescópios. Mas meu pai, principalmente, fazia questão de garantir que meu comportamento se aproximasse do estereótipo masculino – ou, ao menos, do que ele entendia como masculino.
Assim, ele me afastou dos meus queridos livros e me enfiou debaixo de carrocerias de carros, o que me causava um incômodo sem fim. Era um “policiamento de gênero” que não percebia os limites de ridículo, chegando a qualificar o meu aceno com as mãos ou a posição dos meus pés no chão como sendo “de garota”.
Minha mãe era menos invasiva no modo como lidava com minhas atitudes, ou pelo menos mais sutil. Mas até hoje lembro da angústia que senti quando ela me disse, por volta dos 10 anos de idade, que eu não poderia mais brincar com as garotas da vizinhança.
Em contraste ao estado de sítio em que eu me sentia em casa, havia o amor e o carinho com que me tratava meu avô paterno, um imigrante sérvio do pós-guerra que trabalhava como psiquiatra num asilo próximo, figura proeminente na comunidade local de árbitros de futebol.
Não estou dizendo que, com ele, eu podia me comportar como a mulher que eu sentia ser, mas nunca, durante toda a vida, meu avô deixou de demonstrar sua preocupação genuína com o meu bem estar. A maneira como ele incentivou em mim o respeito pela carreira acadêmica foi crucial e solidificou minha paixão intensa, talvez maníaca, pelos estudos.
Conforme eu deixava pra trás meus interesses infantis, os estudos se tornaram o centro das minhas atenções, a principal forma de me desligar do conflito interno que vivia. A capacidade intelectual permanecia como minha fiel escudeira enquanto eu enfrentava a universidade, trazendo-me grandes honras na faculdade de economia — mas esses mesmos anos, e os que se seguiram, revelariam-se traumáticos.
Ao assistir a entrevista de uma mulher trans em um programa de TV, percebi com clareza a semelhança entre minha situação e a dela, mas, vivendo na casa dos meus pais e consciente da cultura dominante muito hostil às pessoas trans, minha primeira reação foi simplesmente negar a minha profunda disforia de gênero.
Claro que isso não serviu de nada, e a minha vida mergulhou ainda mais nas profundezas da infelicidade durante meu primeiro ano trabalhando depois da graduação, em 1995. Eu virei bulímica, e minha mente se enchia de pensamentos cada vez mais sombrios de suicídio.
Em meados de 1996, depois de me mudar devido a uma bolsa de estudos, iniciando e depois terminando o relacionamento com a mulher que na época eu considerava minha alma gêmea, e subsequentemente desistindo de estudar, eu cheguei ao meu limite. Rendi-me à realidade daquilo que eu sempre soubera sobre mim: que eu era uma mulher erradamente configurada num corpo de homem.
Meu último ato público sob o gênero masculino foi a presença no segundo fim de semana “Liberdade e Sociedade”, com um grupo de estudantes liberais em Sydney, Austrália, organizado pelo think tank Centro de Estudos Independentes. Recordo bem essa semana, em que encontrei pessoas com mentalidade liberal que conheço até hoje, apesar da imensa tristeza que eu sentia à época do término com minha namorada e de tudo que eu pensava sobre minha própria identidade.
A partir dali, pude encarar a transição de gênero.
Busquei amigos nas comunidades trans em Canberra e em Sydney, encontrei os especialistas médicos apropriados, iniciei a terapia de reposição hormonal, saí da casa que eu dividia com um colega e perdi amigos que não conseguiram compreender pelo quê eu estava passando.
Quando voltei a Brisbane no natal de 1996, saí do armário para os meus pais e irmãos, mas suas respostas foram naturalmente negativas, o que não foi nenhuma surpresa. Não muito tempo depois, abri o coração para os meus avós, cuja aceitação, ainda que cautelosa, fez-me explodir de alegria — contrastando com a frieza dos meus pais.
Já tendo iniciado a terapia hormonal, logo eu consegui um estágio no serviço público e, seis meses depois, fiz a transição no trabalho.
Passei por dois exames psiquiátricos, nos quais fui diagnosticada com disforia de gênero, mas sem nenhum outro problema que prejudicasse minha saúde física ou psicológica. Avaliei várias opções para a cirurgia de confirmação de gênero e procurei Peter Widdowson, um cirurgião plástico neozelandês. A operação, caríssima, foi uma verdadeira dor de cabeça.
Com muita dificuldade consegui juntar o suficiente para o depósito inicial, mas foi meu avô paterno quem concordou em financiar os gastos médicos restante sob a forma de um empréstimo.
Sei que minhas circunstâncias foram tão fortuitas quanto únicas, mas olhando para esses últimos quinze anos parece que a vida da maioria das pessoas trans está de fato melhorando, embora num ritmo desconfortavelmente lento.
O Centro de Gênero sediado em Sydney me proveu de informações valiosíssimas durante minha transição, pelas quais serei eternamente grata. Mas desde então um número cada vez maior de pessoas trans têm assumido com gosto os benefícios da livre associação, e novos grupos têm vindo à luz, como o Ygender, de Melbourne, e o A Gender Agenda, de Canberra. E, graças ao grande poder emancipatório da internet, que na época da minha transição não tinha tanto alcance, pessoas gênero-diversas conseguem encontrar serviços médicos e grupos de apoio com um simples toque do teclado.
Também são encorajadores os relatos de pais buscando ativamente ajuda construtiva para os filhos transgênero, em vez da punição conformadora a que fui submetida na juventude.
Infelizmente, ainda há uma avalanche de transfobia, desde repúdios, ridicularizações e até ódio, que chegam inclusive aos nossos jornais diários.
Então, apesar de a minha transição de gênero ter se finalizado há muito, as manchetes de jornal obscenas descrevendo mulheres trans assassinadas como “travecos” e artigos de opinião maldosos na internet disputando o gênero de mulheres que fizeram a transição cirúrgica ainda me arranham a alma.
Por quê?
Porque ações são informadas por idéias, por sua vez formalizadas em palavras. Sentimentos negativos escritos contra pessoas trans são como um balde de água fria nas pessoas que estão questionando o próprio gênero e na sua disposição de buscar conforto e realização.
Por sorte, eu fiz a minha transição relativamente cedo, mas ainda precisei passar uns bons cinco anos com medo da reação que meus pais, parentes, amigos e estranhos teriam diante da mudança que eu queria promover em mim. E o que é pior, algumas pessoas entendem o abuso e a ridicularização das pessoas trans como aval para infligir violências impensáveis a mulheres trans, homens trans e outras pessoas gênero-diversas.
O mundo está se tornando um lugar melhor porque as pragas do racismo, sexismo e homofobia estão regredindo, e faríamos bem em adicionar à lista a discriminação baseada na identidade de gênero.
Pessoas que enfrentam questões relativas a identidade de gênero se veriam mais livres e seguras para perguntar sobre si mesmas e, se quisessem, buscar ajuda médica ou de outro tipo — o quanto antes. Os pais, como o meu amado velho que tanto sofreu, não mais precisariam se sentir obrigados a vetar as ações das crianças que desviassem de umas convenções arbitrárias de binaridade de gênero.
Munidas, então, de uma compreensão mais ampla, as pessoas cis talvez parassem de sentir essa necessidade constante de castigar as pessoas trans a fim de proteger a “honra” de uma ordem social tradicional qualquer.
Meu amigo Tim Wilson, do conselho de Direitos Humanos da Austrália, recentemente convocou os australianos para estabelecer diálogos respeitosos acerca da posição de pessoas trans na nossa sociedade.
É uma ótima convocação e, para esse fim, eu empresto a minha história pessoal.
Esta é quem eu sou. Vivi agora como mulher pela maior parte da minha vida adulta, ocupei cargos interessantes e às vezes até influentes e experimentei, como mulher, relacionamentos maravilhosos com outras mulheres. Até mesmo a minha renda anual aumentou dramaticamente, ficando pelo menos dez vezes maior, desde meados de 1996 — quando eu era sozinha, desempregada, uma mulher presa num corpo de homem, um corpo que eu detestava…
Sou uma mulher que passou por uma transição de gênero, e minha cirurgia não apenas permitiu que eu florescesse, mas, para todos os efeitos, salvou a minha vida.