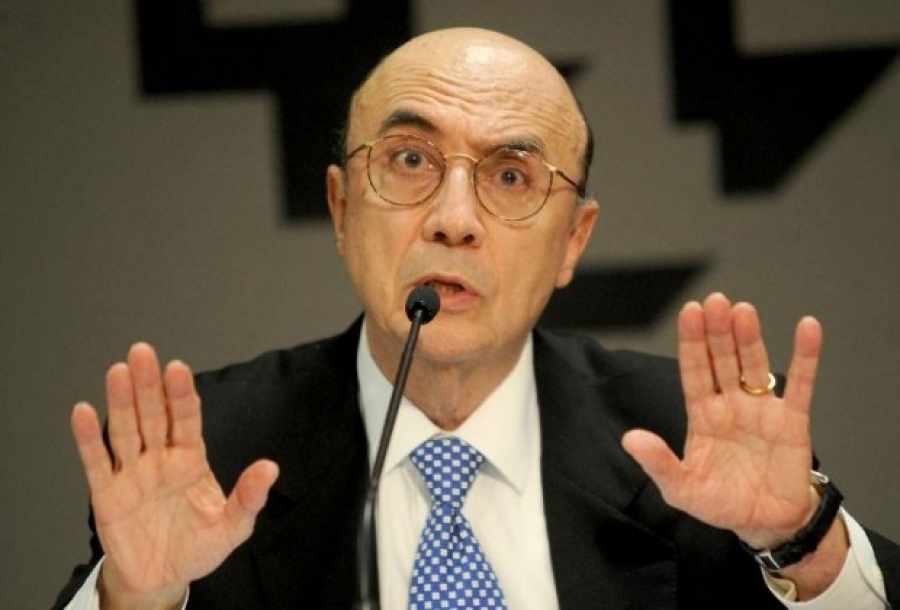No Chile, dar mais universidade gratuita piorou acesso dos mais pobres
Alonso Bucarey, chileno, é doutorando em economia no MIT, onde trabalha com economistas do porte de Joshua Angrist e Nikhil Agarwal, pesquisando economia do trabalho e educação. Por sorte ou coincidência, a terra natal dele é particularmente interessante para estudos na área.
Primeiro pela relativa abundância de dados de boa qualidade, especialmente para o padrões de um país da América Latina. O Chile é membro da OCDE, um clube de países ricos que promove o desenvolvimento econômico. O Brasil quer entrar faz tempo e vem reformando suas políticas públicas para isso. Todos os membros da OCDE seguem as boas práticas de disponibilidade de dados para pesquisa da organização.
Além disso, não houve negociação política para muitas reformas no Chile implantadas durante a ditadura de Pinochet. Por caminhos tortos, o país foi quase um laboratório natural de políticas que viviam nos manuais de economia. A previdência por capitalização foi uma das muitas políticas em que o Chile foi pioneiro em trazer para o mundo real. O hábito se manteve mesmo em períodos de democracia – no início dos anos 90, foi um dos primeiros países a adotar as metas de inflação.
Ainda mais interessante é a maneira como educação superior é financiada. Para ser mais preciso, as várias maneiras. O sistema chileno já seguiu modelos de financiamento muito distintos e essas mudanças podem ser exploradas para entender os efeitos de diferentes políticas educacionais.
O sistema de universidades do Chile
Entrar numa universidade no Chile é mais ou menos como no Brasil. Você não é admitido em uma universidade, mas diretamente em uma graduação. Se em Harvard um estudante é, antes de mais nada, aluno de Harvard e ao longo da sua estadia lá ele acumula créditos de matérias que possibilitam sair com um bacharelado em A, B ou em A e em B, no Brasil ele é aluno de uma Faculdade de Economia, ou da Escola de Educação, do Instituto de Letras ou do Departamento de Psicologia.
No Chile, há uma elite de 33 universidades seletivas e disputadas, 25 estatais e 8 privadas. O sistema deles lembra muito o nosso nesse aspecto. A seleção se dá por uma avaliação padronizada nacional – o ENEM deles é a Prueba Selección Universitaria, PSU. Vestibulandos usam suas notas num sistema unificado que calcula as notas de corte. Assim como no SiSU brasileiro, os vestibulandos ordenam os cursos por preferência no sistema e ingressam no primeiro em que sua nota está acima do corte.
Uma diferença é fundamental: o financiamento do curso
Nem tudo é semelhança com o Brasil. Aqui, ingressar numa pública é sinônimo de custo zero para todos. No Chile, estudantes que prestam a PSU reportam sua renda familiar no processo de inscrição se quiserem uma bolsa. Os dados são cruzados com a receita federal local e assim calcula-se a porcentagem do “preço cheio” que cada aluno pagará, que pode ser zero. O valor varia curso por curso, aluno por aluno.
Quanto melhores a nota no ENEM local e o histórico de ensino médio, maiores serão as bolsas. A bolsa média paga 83% do custo da graduação. Alunos que não forem elegíveis para bolsas tem direito a um empréstimo garantido do governo para financiar os estudos.
Entre 2011 e 2015, ocorreu um grande relaxamento dos critérios de bolsa. Em geral, cursar uma graduação financiada pelo resto da sociedade ficou mais fácil. Antes da expansão, apenas alunos entre os 40% mais pobres da população tinham direito a bolsas integrais. Esse número gradualmente aumentou até 60%. Desde então, outras mudanças nos critérios de renda e nota aumentaram o acesso à gratuidade.
O que Bucarey descobriu em seu estudo
Em um recente trabalho do doutorando no MIT – intitulado “Quem paga por faculdade gratuita? Esvaziamento no ensino superior chileno” -, Bucarey mediu os impactos das mudanças no sistema de financiamento. Para a tarefa, dispôs de modelos razoavelmente sofisticados e uma técnica econométrica conhecida como Regression Discontinuity Design (RDD).
O subtítulo do trabalho faz referência ao famoso Efeito Crowding Out, traduzido comumente como “Efeito Esvaziamento”.
A maioria dos alunos de graduação em economia estuda os impactos desse efeito pela lente do modelo IS/LM, uma ferramenta tradicionalmente keynesiana. Quando governos gastam mais através da emissão de dívida, a poupança privada flui em direção aos desejos do Estado. Com mais recursos financiando a máquina estatal, menos recursos ficarão disponíveis para a iniciativa privada. Assim, o novo gasto que pretendia incentivar a economia diminui o investimento privado ao invés de aumenta-lo.
A referência de Bucarey é um trocadilho entre esse clássico e o resultado encontrado: segundo ele, mais universidade gratuita está gerando um esvaziamento (crowding out) do grupo de pobres universitários. O exato contrário do esperado, como no caso da macroeconomia.
Em trecho do trabalho (disponível aqui na íntegra e traduzido pelo excelente blog Economista X), Bucarey sumariza os achados:
Estimo que cerca de 13% dos estudantes entre os 40% mais pobres da população são deslocados dos programas no sistema de atribuição centralizada [PSU], e cerca de 5% deles terminam sem colocação em nenhuma universidade depois que a gratuidade é introduzida. Como conseqüência, a política de gratuidade [“free tuition”] tem efeito negativo sobre o bem-estar dos estudantes de baixa renda.
As perdas são estimadas de algo entre 3 e 6 mil dólares para o estudante de baixa renda. Há ainda um ganho pequeno entre 0 e 1,5 mil dólares para estudantes de alta renda. Vinculando a atribuição de estudantes à média observacional de graduados mais velhos, o trabalho encontra que o esvaziamento reduziria os ganhos anuais para o estudante médio de baixa renda em US$ 600 dólares levando a uma maior desigualdade de renda.
Como mais universidade gratuita pode prejudicar os mais pobres
Aumentar o acesso à política de bolsas diminuiu a focalização dos membros – isto é, diminuiu seu foco nos mais pobres. O público que precisava muito de políticas assistenciais passou a competir com quem precisava menos. Sob essa perspectiva, o resultado de Bucarey não é novo.
Foi o que George Stigler, ganhador do Nobel de Economia, chamou de Lei de Director da Distribuição Pública de Renda. Distribuir renda sem restrições sobre quem será beneficiado acaba beneficiando a classe média, em detrimento dos mais pobres. Essas restrições, que formam no jargão do economista um programa focalizado, possuem um famoso exemplo brasileiro: o Bolsa Família, com seus critérios de renda.
Os mesmos fatores que causam a pobreza – como a falta de acesso a qualificação profissional ou a presença em grupos socialmente discriminados – também levam à dispersão e baixa participação política. Por isso, as coalizões que promovem o ‘Estado de Bem-Estar Social’ normalmente beneficiam uma combinação intermediária de eleitores, que vai da classe média baixa à classe alta, em detrimento dos extremos.
Não atende ao melhor interesse de famílias mais pobres que, em nome do seu próprio bem-estar, elas sejam punidas por políticas públicas bem intencionadas. Esse talvez seja o maior desafio de pensar política pública e educação no Brasil: superar a noção de que intenção é igual a resultado.
Se quisermos acesso mais democrático ao ensino superior, é bom começar a medir e avaliar políticas públicas. Para esta tarefa, olhar os dados é mais importante do que falar em nome do bem.